Todo mundo tem seus preferidos secretos. Aquele clube de jazz em um beco de Montmartre que ninguém conhece, aquela pousadinha em Búzios que só aceita clientes recomendados, aquele quiche que não está no menu mas é o melhor prato do restaurante.
Em literatura é a mesma coisa. Aqui vão meus autores secretos favoritos, aqueles brasileiros subestimados que você provavelmente não conhece, mas devia conhecer.
Cornélio Pena (Petrópolis, RJ, 1896 – 1958)
Publicou três romances de realismo psicológico nas décadas de trinta e quarenta que são hoje completamente ilegíveis e algo incoerentes. Quatro anos antes de morrer, entretanto, publica “A Menina Morta” (1954), um dos romances mais extraordinários da literatura brasileira, que já bastaria para garantir sua imortalidade e cuja perfeição justifica todo o experimentalismo anterior.
No século XIX, em uma fazenda cafeeira escravista na divisa entre Minas e Rio de Janeiro, morre a sinhazinha. O livro já começa com ela morta. A menina morta. E, aparentemente, a menina era tudo que segurava aquele mundo de pé. Somente a luminosidade inocente da menina impedia que todos os conflitos viessem à tona. Com sua morte, é como se a realidade começasse a se rasgar. Quase nada acontece no livro, mas ele é desesperador, aterrorizante, sufocante. Há em cada linha uma tensão praticamente insuportável.
Nenhum escritor brasileiro compõe atmosfera narrativa como Cornélio Pena. Apesar disso, hoje em dia, nem professores de literatura ouviram falar dele.

Trecho de :
“E assim tudo continuava em sua aparência habitual, mas havia um princípio de desagregação, de ruína e desmoronamento que todos suspeitavam, e olhavam para o dono da casa como o único capaz de salvá-los, de tornar a fazer reviver e galvanizar aquele grande corpo que lhes parecia agonizante, agitado pelo trabalho subterrâneo da morte.”
Adonias Filho (Itajuípe, BA, 1915 – Ilhéus, BA, 1990)
Cometeu o terrível erro histórico de apoiar (ou não ser suficientemente contra) o golpe de 1964. Durante a ditadura, foi eleito para a ABL, atuou como diretor da Biblioteca Nacional e ganhou inúmeros prêmios importantes. Depois de sua morte, em 1990, começou a ser paulatinamente esquecido.
Uma injustiça. Dane-se a política de Adonias Filho. Sério. O homem já morreu faz vinte anos, não faz diferença se votou ou não no Collor.
O cenário de Adonias Filho (com raras exceções) é o sul da Bahia, em épocas sempre meio indefinidas, no interior da zona cacaueira, uma área retratada como bestial e sublime. Seus personagens são homens e mulheres tão brutos e xucros que mal conseguem falar ou articular suas emoções e suas vontades. Por isso, resolvem seus conflitos através de uma violência que, de fato, acaba se tornando sua única forma de comunicação.
Não há nenhum tipo de idealização do pobre, do camponês, do interior. A linguagem é altamente estilizada; a realidade, não. A quase afasia dos personagens é mais do que compensada pela beleza da narrativa. A prosa de Adonias Filho é uma das mais belas e cruéis, perfeitas e rudes, poéticas e bárbaras, da nossa literatura.
Aqui estamos em plena terceira fase do nosso modernismo, quando o romance regionalista realista de trinta solta suas amarras e se deixa experimentar. Que me perdoem os puristas, mas para mim Adonias Filho está léguas a frente de medalhões como Rachel de Queiroz, José Lins do Rego e até mesmo Graciliano Ramos.
Com exceção de seus últimos livros (ele já estava bem velhinho, a qualidade não é a mesma), a maior parte de obra ficcional é igualmente boa. Destaque para “Memórias de Lázaro” (1952), “Corpo Vivo” (1962), “O Forte” (1965) e “As Velhas” (1975). (Por coincidência, ou não, em 1960, publicou um livro sobre Cornélio Pena.)

Dois trechos de “”:
“Na manhã de hoje, assim que o sol subiu,obrigaram o povo a se reunir em torno da jaula. Homens, mulheres e crianças eram como sombras mudas. Empurrado por quatro cabras, trouxeram o caboclo Juca e, frente aos olhos apavorados, atiraram-no aos dentes dos cães dentro da jaula. Muitos não viram que fecharam os olhos. Outros não ouviram que taparam os ouvidos. Mas se terrível foi o grito do homem (…), não menos terrível foi a arremetida dos cães. As mandíbulas à mostra, ganindo e aos saltos, dilaceraram o corpo que se converteu numa pasta informe. Rasgando a carne, com os pelos sujos de sangue, teriam comido aquilo não fosse o chefe ter manejado o rifle. Vomitando fogo, em suas mãos, a arma não deixou um só cão vivo. E, no silêncio aflitivo que se fez, em seu calção de couro de carneiro, exclamou:
– É assim que Dico Gaspar mata os vermes!”
“Nua dentro da luz. Os cabelos são mais negros, agora, descido sobre os ombros. Empinam-se os seios que sombreiam o ventre. Lisas como o ventre, a mesma pele morena, as coxas úmidas. A vontade é a de diminuir o peso das mãos para não machuca-la e conter o sangue que corre solto em seu próprio corpo. Os braços, porém, já se distenderam. E, nas mãos tomando os seios, aperta-os de leve enquanto os olhos são brasas e as pernas estremecem como se fossem andar. Debruça-se para beijar os ombros, correndo a boca ate o pescoço, sentindo na outra carne a fome da sua carne. Deita-a, então, no chão de barro onde o fogo ainda devora a lenha.”
Lúcio Cardoso (Curvelo, MG, 1912 – Rio de Janeiro, 1968)
Com Lúcio Cardoso e Cornélio Pena, executei um mesmo movimento-leitor: depois de cair de quatro com a obra-prima, voltei atrás e li toda a obra, buscando por novas pérolas, mas acabei decepcionado. Se a obra de Adonias Filho é um platô de romances de igual qualidade salpicados ao longo de três décadas, Lúcio Cardoso e Cornélio Pena claramente escreveram em um crescendo. A obra pregressa de ambos simplesmente não se compara ao jorro criativo e à genialidade do último romance. No caso de Lúcio Cardoso, meros de três anos depois de publicar “Crônica da Casa Assassinada” (1959), sofre um derrame que o impede de escrever para sempre. Arrisco: se o derrame acontecesse um pouco antes, se a última obra não tivesse existido, o autor não seria hoje nem nota de pé de página.
“Crônica da Casa Assassinada” é uma obra monumental e polifônica, traçando a decadência de uma família mineira em seu casarão colonial. Ouvimos as vozes em primeira de quase todos os personagens, através de narrações, depoimentos, cartas, cadernos. Assim como em “A Menina Morta”, estamos diante de uma atmosfera insuportavelmente sufocante. O desespero de Nina, uma carioca extrovertida presa em uma casa agonizante, é o nosso próprio desespero de leitor, confrontados com aquela realidade de pesadelo. Algumas vezes, os subterrâneos morais da trama chocaram até mesmo um leitor calejado como eu: “Peraí, aconteceu isso mesmo que eu acho que aconteceu? Não pode ser, devo ter entendido errado, deixa eu ler de novo…”
Mas sofre do problema de tantos grandes romances: o final decepciona. A última revelação é forçada e excessivamente melodramática. Ainda assim, não estraga. “Crônica da Casa Assassinada” é um dos grandes romances brasileiros.

Trechos de “”:
” … E era como se do fundo dele subisse de um jato a água estagnada e preta de sua paixão… sem tê-lo visto ainda, adivinhava sua presença por trás de mim, e o galope do seu coração. Nem sequer me voltei, juro, mas no decorrer da noite, como se tivessem poder para varar as paredes, senti durante todo o tempo suas pupilas que me acompanhavam, e eram as pupilas de um louco, de um homem com sede e com fome, sem coragem para tocar no alimento que se achava diante dele. Minha mão esmorece, a pena tomba. É inútil descrever-lhe que espécie de demônio você tem em casa.”
“Como se assistisse à demonstração de um espetáculo mágico, ia revendo aquele ambiente tão característico de família, com seus pesados móveis de vinhático ou de jacarandá, de qualidade antiga, e que denunciavam um passado ilustre, gerações de Meneses talvez mais singelos e mais calmos; agora, uma espécie de desordem, de relaxamento, abastardava aquelas qualidades primaciais. Mesmo assim era fácil perceber o que haviam sido, esses nobres da roça, com seus cristais que brilhavam mansamente na sombra, suas pratas semiempoeiradas que atestavam o esplendor esvanecido, seus marfins e suas opalinas – ah, respirava-se ali conforto, não havia dúvida, mas era apenas uma sobrevivência de coisas idas. Dir-se-ia, ante esse mundo que se ia desagregando, que um mal oculto o roía, como um tumor latente em suas entranhas.”
José J. Veiga (Goiás, 1915 – Rio de Janeiro, 1999)
Começou tarde: publica seu primeiro livro de contos aos 44 anos e, pasmem, encontra imenso sucesso. Um iniciante com um livro de contos! Sucesso merecido, pois os contos de “Os cavalinhos de Platipanto” (1959) são realmente excelentes. Depois disso, começou a escrever prolificamente. Seus melhores romances são das décadas de sessenta e setenta: especialmente “A hora dos ruminantes” (1966) e “Sombras de reis barbudos” (1972), com destaque também para “Os pecados da tribo” (1976). Assim como Adonias Filho e ao contrário de Cornélio Pena e Lúcio Cardoso, José J. Veiga não teve a sabedoria de morrer no auge: a produção dos seus últimos vinte anos de vida é bastante fraca.
Mas isso não é crítica ao autor. É uma crítica talvez à obrigatoriedade mercadológica de seguir publicando loucamente mesmo quando se está idoso e cansado. Somente “A hora dos ruminantes” e “Sombras de reis barbudos” já seriam mais que suficientes para imortalizar José J. Veiga.
Pra começar, os dois livros são tão semelhantes que parecem gêmeos: diferentes versões da mesma história. Cidade pequena invadida por uma força insólita e irresistível. Simples e assustador. São os melhores romances políticos, os melhores romances alegóricos, os melhores (praticamente os únicos) romances de realismo mágico da literatura brasileira.
A linguagem é tão simples, límpida e cristalina (Veiga traduzia Hemingway) que são muitas vezes ensinados para jovens. Quando eu dava aulas de português e literatura brasileira nos Estados Unidos, li “A hora dos ruminantes” com meus alunos e foi um sucesso. (Tive somente que lembrar aos falantes de espanhol que “cachorro”, em português, não quer dizer filhote!)
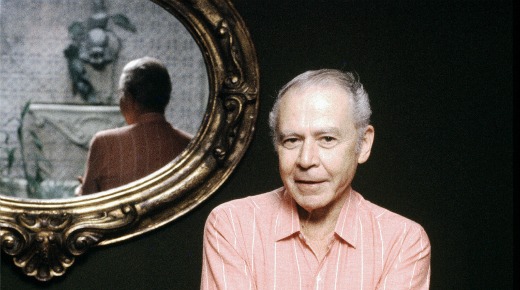
Trechos de “”:
“Manarairema ao cair da noite – anúncios, prenúncios, bulícios. Trazidos pelo vento que bate pique nas esquinas, aqueles infalíveis latidos, choros de criança com dor de ouvido, com medo de escuro. Palpites de sapos em conferência, grilos afiando ferros, morcegos costurando a esmo, estendendo panos pretos, enfeitando o largo para alguma festa soturna. Manarairema vai sofrer a noite.”
“Outros [cachorros] parece que entravam numa casa apenas para descarregar a bexiga; chegavam, farejavam, escolhiam lugar, às vezes até um par de botinas encostado num canto, e calmamente se aliviavam; ou rodavam, rodavam no meio da sala, o corpo encurvado no meio, as pernas traseiras abertas, espremiam, largavam uns charutinhos ou uma broa; satisfeitos com o resultado, raspavam as patas duas, três vezes e saíam sem olhar para ninguém, os donos da casa que providenciassem a limpeza. Eram desacatos que as pessoas toleravam resignadas, consolando-se em pensar que não há mal que sempre dure.”
* * *
E quais são os seus autores desconhecidos favoritos?



Puxe uma cadeira e comente, a casa é sua. Cultivamos diálogos não-violentos, significativos e bem humorados há mais de dez anos. Para saber como fazemos, leianossa política de comentários.