O que faz das grandes histórias, grandes histórias?
Seria o clímax sempre inesperado? O baque na reviravolta? Eu sempre falo — ou costumo sempre me lembrar de falar em casos como esse — que a história é sempre de quem está contando. Não se pode deixar que a tradição oral de passar uma história para frente seja poluída (encardida mesmo) com outras falas de outras pessoas, mesmo que elas estivessem lá e discordassem completamente dos fatos ditos.
Quem conta a história está comprometido com a narrativa, não com a realidade. O contador de histórias vai te guiar pelos acontecimentos com o máximo de aconchego, não de veracidade.
Mentiroso não. Quem alguma vez assistiu ao filme Peixe Grande vai saber do que estou falando e se arrependerá da falsa alcunha. O último bom filme do Tim Burton.
Pois bem. Quem conta a história tem direito — e dever — de enaltecer as habilidades envolvidas, as façanhas apolíneas e as desenvolturas fantásticas de seus personagens. E que seja assim sempre: boas histórias e não histórias verossímeis. As grandes histórias são contadas por grandes contadores de histórias.
Temos aqui um compilado de histórias que envolvem os autores do PapodeHomem:
Pequeno update: e, sim, as ilustrações são todas do Felipe Franco, o xodó da casa.
Victor Lisboa sabe comprar e confundir na Índia

Antes da viagem à Índia, recebi conselhos sobre os comerciantes e taxistas, pois seriam os “reis da malandragem” de lá. Mas nada disso impediu que eu fosse levado a uma “favela indiana” por um taxista de Agra, ao invés de à estação de trem.
Protestei, e ele jurou que apenas me mostraria um lugar onde marmoreiros trabalhavam como na época do Taj Mahal. Paramos em um lugar sinistro, uma marmoraria no meio de casebres. De cara, ele e dois sujeitos me levaram pelos braços para o subsolo, onde havia impressionantes peças de mármore, como estátuas e tabuleiros de xadrez.
Mas não havia janelas.
Fecharam a porta. Com duas trancas.
Logo esclareceram que só me liberariam se eu comprasse uma das peças. A mais barata custava 2.500 dólares. Não aceitariam recusa. Era uma compra forçada, na prática roubo, pois o peso das peças impedia que as levasse comigo: prometeram que enviariam pelo correio.
Arram.
Nem adiantou dizer que não tinha grana, pois o taxista, que me pegou no hotel, malandramente notara que paguei a hospedagem com cartão e disse algo como “they’ll accept your Mastercard, sir!”. Ele me olhava como se eu fosse um caixa eletrônico.
E aí me dei conta de que o segredo seria parecer mais trouxa e crédulo do que esperavam.
Comecei a mostrar admiração pelas peças, disse que compraria não uma, mas várias, pois tinha loja no Brasil. Mostrei fotos de uma loja de artesanato em Natal, que visitei em outra viagem, e jurei ser o proprietário. Não pareceram convencidos, mas comecei a selecionar as peças uma a uma, sem pressa.
Pechinchei o preço de todas, apontando falhas, calculando o somatório, lendo em voz alta o total parcial. Começaram a acreditar. Pedi até um chai. No final, já sorriam e me levaram lá para cima, onde contaram algumas histórias. Eram muçulmanos, e juraram descender dos persas que invadiram a Índia.
Fui liberado sem comprar nada. Na verdade, ao sair, ganhei uma caixinha que vendiam na entrada da marmoraria por 1200 rúpias (cerca de 20 dólares). Dei de presente pra minha namorada na época.
Meu maior feito, até hoje, foi ter sido mais malandro que aqueles malandros.
Eduardo Amuri sabe perder o carro e seguir com a vida assim mesmo

Tenho costume de ir ao Reserva Cultural, espaço bacana na Av. Paulista, todo domingo à noite. Saio de casa por volta das 18h30 e encaro uma caminhada de uns 20 minutos até lá. Chego, compro ingresso para alguma sessão que vá começar próxima das 22h e me sento em alguma mesa vazia para trabalhar.
É quando organizo a semana e mato o que ficou pendente. Tudo feito, como alguma coisa, assisto o filme e volto pra casa.
Naquele dia eu estava muito manco por conta de um treino longo de corrida e peguei o carro. Dirigi 5 minutos e caminhei até o Reserva. Comprei o ingresso para assistir Amantes Passageiros, comédia escrachada das boas, sessão das 22h15.
Pedi um croissant e uma coca e sentei para trabalhar. O tempo voou e eu nem vi. Olhei para celular e já eram 22:20. Fechei tudo e entrei na sala. Risada dada, saí e caminhei até em casa. Veja bem: eu caminhei até em casa.
Na segunda-feira, acordei umas 8h, tomei café e trabalhei de casa, o dia todo. Prestei consultoria por Skype, paguei contas, tudo online. Não precisei sair do apartamento para nada. Dei uma olhada na agenda e vi que precisaria sair cedo na terça para uma reunião aqui no QG do PapodeHomem.
No estacionamento do meu prédio — um pátio com carros parados na fileira da esquerda e da direita — meu carro não estava. Nem na fileira de lá nem na de cá.
— Seu Eduardo, ô seu Eduardo.
— Opa, não tô achando meu carro, Jamil.
— Seu carro não tá aqui, filho.
— Tá sim, cara.
— Não, filho, não tá.
— Então onde tá?
— Uai, como eu vou saber? Cê não deixou ele aqui.
Tirei os fones, me escorei na parede e abaixei a cabeça, ajuntando toda minha concentração como se fosse um hadouken, para ver se lembrava o que tinha acontecido. Refiz todos os meus passos de domingo. Da minha casa para o parque, do parque para a casa da minha mãe, da casa da minha mãe para a minha casa, da minha casa pro cin…
Puta que o pariu.
Manco, de roupa social, num calor africano, sai correndo em direção à Av. Pamplona, na esperança de ver aquela bola de metal preta no mesmo lugar em que eu havia deixado. Cheguei em coisa de 6 ou 7 minutos. Na vaga onde eu havia parado, estava um camelô. Caminhei até ele, na esperança de que, talvez, o carro tivesse se escondido dentro do bueiro ou atrás do poste.
Mas não.
Olho pra cima e vejo a placa de trânsito, sinalizando que só era permitido estacionar naquela vaga aos domingos. Talvez em solidariedade a minha cara de desespero, a mocinha da banca de jornal me chama:
— O senhor que é dono do Fiesta preto que estava ai?
— Sim, moça! Cadê ele?
— Ih, senhor… os “hômi” levaram ontem.
— Que “hômi”? Como assim?
— Seu carro tava obstruindo a obra aqui do lado. Daí guincharam. Veio polícia e tudo. Dois dias com carro parado em lugar proibido, filho. Não dá, né?
Ensopado de suor, maltrapilho, tendo tomado um corretivo da moça da banca, fui buscar no Google o que fazer para reaver o veículo.
Descobri que meu carro estava no pátio do Jaguaré, há uns 15 km da Paulista, e que para buscá-lo eu precisaria antes passar no Detran, que fica no Centro, 32 km do pátio, com os todos documentos, para pagar a multa de 600 reais.
Bom, abri minha bolsa para checar se os documentos estavam lá, e então me lembrei que há dois dias havia tirado-os de lá e colocado no porta-luvas do carro, ou seja, eu precisaria ir até o Jaguaré — 15 km –, pegar o documentos, ir até o Detran — 32 km — pagar tudo e só então voltar ao Jaguaré — +32 km — para buscar o carro.
Impressionado com minha própria capacidade de ser burro, vencido, com o riso da desistência no rosto, fui pra padaria tomar café.
Rob Gordon consegue escrever por 24 horas seguidas

Existem duas coisas que eu descobri sobre mim trabalhando dentro de redação. Primeiro, eu escrevo muito rápido, especialmente quando a ideia do texto já está na minha frente e, segundo, eu tenho uma resistência física muito grande ao cansaço.
Não era difícil atravessar a noite na empresa com a cara enfiada no computador, fazendo texto atrás de texto.
Quando voltei a trabalhar em casa, decidi usar essas duas habilidades a meu favor. Assim, inventei um desafio: passaria 24 horas escrevendo crônicas sem parar. Decidi que faria em uma sexta-feira e comecei às 20 horas.
A cada hora, eu pedia um tema aos leitores no Twitter e escolhia o mais interessante entre as sugestões. Com isso, tinha no máximo uma hora para inventar uma crônica inteira, com começo, meio e fim, a partir daquela ideia, até a próxima hora “redonda”, que trazia com ela novos temas e uma nova crônica.
Fiz isso durante um dia completo. Foram 24 horas com os leitores dando ideias, no Twitter, e assistindo algumas destas ideias se transformarem em textos em tempo real. Foram 24 textos grandes e totalmente diferentes entre si. Foram 24 crônicas escritas contra o cansaço, contra o sono, contra a falta de inspiração, contra a fome e a sede, contra o tempo, contra a dor nas pernas — experimente ficar durante um dia inteiro com as pernas dobradas no sofá servindo de apoio ao notebook.
O projeto virou livro. Depois da loucura da maratona, selecionei 24 temas que não foram usados e transformei-os em crônicas, lançando o livro 24 Horas, 48 Crônicas, que traz as 24 originais e as 24 inéditas. Porém, mais importante que o livro, foi a sensação de ter derrotado uma volta inteira do planeta ao redor dele mesmo usando somente os textos como arma.
Até hoje, sinto muito orgulho disso.
E até hoje prometo para mim: vou fazer de novo.
Rodrigo Cambiaghi já ganhou trocados passando fases

Entre 1997 e 1998 a Rare — junto com a Nintendo — lançou um jogo que me faria o rei da turminha nerd do colégio e proporcionaria minha primeira experiência como empreendedor.
Minha história de glória com o GoldenEye começa quando rolou o rumor de que haviam 2 fases “secretas” e só eram desbloqueadas, quando se termina o jogo em níveis mais difíceis, também que haviam cheat codes habilitáveis conforme terminasse as fases do game em tempos estabelecido.
Eu fui o primeiro do colégio inteiro a tirar a história a limpo e terminar o game no “00 Agent” (o mais difícil) e habilitar cheat codes mais difíceis e confirmar o boato.
Um amigo mais próximo levou a fita dele pro colégio e perguntou se eu podia abrir a fase secreta pra ele, em troca, ele me emprestaria qualquer jogo dele pelo tempo que eu quisesse. No dia seguinte, outro amigo perguntou se eu podia fazer o mesmo na fita dele e em troca, ele ia me pagar 20 reais (uma fortuna para uma criança em 1997).
Não demorou muito para a notícia rodar entre a molecadinha do colégio e depois para os primos e amigos do pessoal do colégio.
Pela minha fama de Pro Player e por ninguém conseguir me vencer no Multiplayer, ganhei o apelido de “James Bond” entre os nerds (status máximo que um garoto de 12 anos pode atingir entre os amigos nerds).
Precisei estabelecer uma tabela de preços e prazo de entrega para a molecada e quase contratei um amigo me ajudar com a demanda. Imaginem meu êxtase quando me dei conta que eu estava sendo pago para jogar videogame a tarde toda. Comecei a fazer planos e metas na minha vida para conseguir viver como pro player.
Obviamente, em poucos meses para minhas notas do colégio despencaram, minha mãe me deu um belo esporro e tesourou minha fonte de renda extra até minhas notas melhorarem.
Nesse tempo, a Nintendo lançou outros games como Mortal Kombat 4 e Ocarina of Time que acabaram com a febre do GoldenEye, eu me dei conta de que a vida de pro player de GoldenEye não tinha futuro. Peguei a grana que tinha juntado, comprei um Gameboy, o Pokémon e o cabo paralelo pra dar uma surra nos moleques do colégio.
O Felipe Ramos foi o primeiro do Brasil
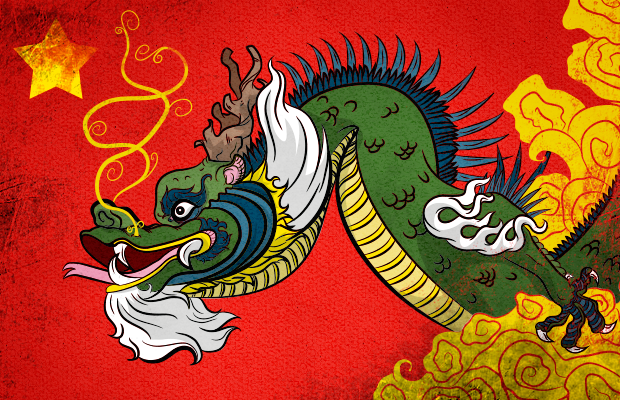
Hoje, fazer intercâmbio é normal. Geralmente uma aventura e tanto.
A minha história é um tanto excêntrica. Aconteceu em 1999.
Quando decidi que moraria por 1 ano em outro país, minha família certamente pensou que o meu destino seria os Estados Unidos ou Inglaterra, talvez Austrália ou qualquer outro destino dos mais escolhidos por jovens intercambistas. A minha escolha foi por Hong Kong, território que, em 1997, tinha voltado à possessão Chinesa e hoje pertence ao SAR (Special Administation Region) que é um órgão chinês que rege territórios como Macau e Hong Kong, cujas políticas são mais voltadas ao capitalismo do que o regime chinês.
Morei durante o ano escolar com uma família chinesa em um bairro chamado Heng Fa Chuen, na ilha de Hong Kong e, ao acaso, tive a sorte de ganhar uma bolsa e fazer um curso técnico em Turismo em uma escola inglesa.
Curiosamente, fui o primeiro brasileiro a fazer intercâmbio em Hong Kong.
Bruno Passos alcançou a glória do “peão rei”
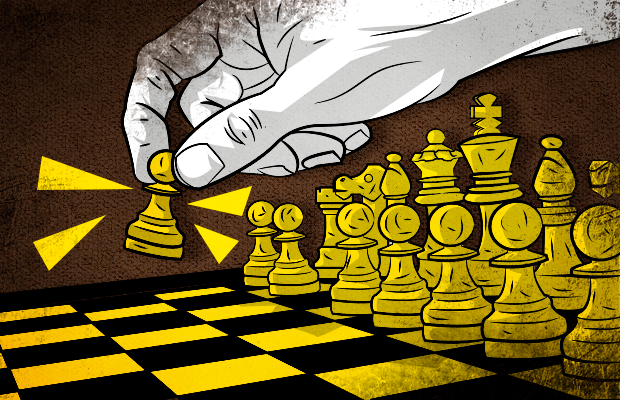
Lembro-me como se fosse ontem, das Olimpíadas do colégio (que depois foi rebatizada para um sem graça “Gincana Cultural”).
Era o momento mais esperado do ano por todos os alunos, uma época em que você podia sair sem seus pais para almoçar nas ruas entre um jogo e outro e poderia até almoçar apenas balas se quisesse. Eram tempos loucos.
Todas as garotas da sua sala gritavam por você nas arquibancadas, as meninas de outros colégios iam até você para perguntar seu nome e, depois dos jogos, se você tivesse ido bem, todo mundo te chamava pelo apelido que você mesmo tinha orgulhosamente escolhido para sua camiseta.
Lá estava eu, o “PíRula”, um vara pau de quase 1,70, pesando 50 e poucos quilos e usando o aparelho mais clássico de uma pré-adolescência sem beijos, o Freio de Burro. Eu jogava todos os esportes possíveis e não era muito bom em nenhum. Mas eu era teimoso.
Foi então que no dia do xadrez, o titular da nossa sala resolveu desaparecer e ninguém mais sabia jogar. Estávamos fadados a derrota, seriam preciosos pontos perdidos, não fosse pelo fato de eu ter aprendido esta nobre arte com meu pai durante as férias. Não pensei duas vezes: “alguém tem que matar essa no peito, eu vou”.
Na hora ninguém viu meu ato de bravura. Xadrez era tão chato que era a única parte dos jogos que acontecia dentro da sala de aula, mas a coordenadora do corredor, antes de bocejar empolgada, disse: “ok, podem sentar-se”. E os jogos começaram. Me destaquei logo na primeira partida ao ganhar de um japinha do time de damas e, como não teve inscritos o suficiente, o pai dele tinha ensinado xadrez um dia antes pra ele participar de alguma coisa (sim, a escola pode ser uma selva).
Já na semifinal acabei ganhando por um inusitado w.o., meu adversário pulou fora por um encontro com uma garota mais velha (dois anos mais velha!).
Eu não o culpo.
Aquele era o momento. Cheguei na surpreendente final e, diante de mim estava ele, o temido ceifador da 162, a besta fera da ciência, o incrível e inigualável – Paulo “a mente” Thame. Seu olhar frio me ignorava assim como fazia a primeira garota com peitos da minha sala. Mas eu não tinha chegado tão longe para parar por ali. Eu sabia que não poderia ganhar daquela máquina de cálculos no raciocínio e, tomado pela consciência de minha pequenez intelectual , bolei a tática mais ousada jamais criada por um enxadrista: comecei simplesmente a copiar todos os movimentos dele.
Uma hora e eu ainda estava lá, de pé. E em igualdade! A coordenadora precisava ir embora e, nomeou o japinha das damas como supervisor e nos levou para o meio do pátio. Mais uma hora se passava, o Ceifador suava, era um calor que homens de estudo não estão acostumados e eu sabia que meu momento estava chegando. Na segunda hora de jogo, todas as outras partidas do colégio haviam acabado e o público começava a se aglomerar ao nosso redor. Eis minha segunda vantagem.
Ao contrário do que parecia acontecer com ele, eu adorava uma plateia e ia ficando cada vez mais a vontade para, como uma sombra ardilosa, copiar tudo que ele fazia . Entramos na terceira e derradeira hora, aquela altura já éramos cercados por 30 ou 40 pessoas, imagino que nenhuma sabia as regras do jogo, pois a cada jogada minha, me olhavam com aquele ar de “ah, muleque sagaz!”. Foi então que o gigante, cansado e combalido, em um ato impensado, moveu aquela rainha pra direita. E como que por recompensa divina pelo minha persistência, eu fiz a mesma coisa, o que resultou em um nunca antes visto (por mim), xeque-mate de peões.
Um operário vencia o rei! Sim! Era possível!
Quando as palavras “xeque” “mate” saíram da minha boca exausta, só pude ouvir o uivo das multidões e eles me ergueram nos ombros em êxtase. Durante um final de tarde inteiro, eu tive todos os refrigerantes que um homem podia beber e todos os chicletes importados que as meninas poderiam dar.
Foi neste dia incrível que eu descobri que, às vezes, para se dar bem, não precisamos ser os mais inteligentes, nem os mais bonitos, basta apenas que sejamos corajosos e tenhamos um rabo dos infernos.
João Baldi entende tudo de distâncias
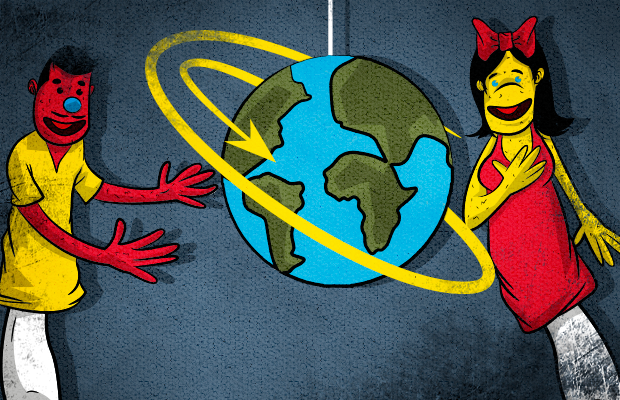
Namoros a distância funcionam mais ou menos como grupos de teatro ou faculdades de jornalismo: você vai ridicularizar quando estiver do lado de fora e só vai entendê-los depois de estar apaixonado por uma garota de outro estado, em uma montagem de com fantoches ou cobrindo uma matéria sobre cães abandonados pro jornal da faculdade.
Então acho que se eu tiver que mencionar um feito épico, lendário, de complexidade ímpar, seria o de conseguir manter um namoro a distância durante três anos. Isso porque tem os custos, as tentativas de mudar de cidade, a saudade, os voos atrasados em Congonhas, um taxista que vai te perguntar um “mas e no rio, você não tem outra namorada?”, sempre alguém para dizer que relacionamento a distância não funciona e te contar uma história de quando morava no Catete e conheceu uma morena na Pavuna.
Pra quem não mora no Rio, isso diz que é longe pra cacete.
Ou seja, por mais que dê essa sensação esquisita de que eu estou na verdade psicografando o espírito ainda não morto do Nando Reis, acho que me manter com a garota de quem eu gosto apesar dos desafios geográficos é a minha versão pessoal da escalada de montanhas, das baladas homéricas e das corridas em carros de alta velocidade. Mesmo porque tenho medo de altura, sinto sono muito cedo e nem tirei carteira de motorista ainda.
Nem rola fazer essas coisas, galera.
Rafael Nardini sobreviveu em algum momento entre 2 e 17 de julho de 2011

A missão era sobreviver. Meu avião que retornava à Hamburgo saía 20h daquele dia perdido no tempo e no espaço. Café da manhã no hotelzinho mais tosco da cidade, seguido por caminhada até o Van Gogh Museum. Sabe aqueles mapas velhos de papel? Pois bem, um desses era meu guia pelo país encantado das palavras com “j”.
Não sei se a ONU já se deu conta, mas a impressão que dá é que os holandeses promoveram o “j” à vogal:
Lá é A-E-I-J-O-U.
Como a Paulus Potterstraat (milagre, sem “j”) fica bem distante dos famosos coffee shops, era melhor se precaver. Upper high? Check! Space cake? Check!
Saldo finaceiro restante: 13 Euros.
O advento do cartão de crédito ventou para os meus lados somente em 2013. Rolou aquele medo de ser barrado no baile. Tensão, mão suada, sol queimando a nuca e fila razoável para ver alguns dos quadros que vez por outra foram meu fundo de tela. Estado mental: total demência e uma certa baba bovina pronta para deslizar do canto da boca.
Cérebro voando mais que Sandra Bullock em “Gravidade”. Chega a minha vez no guichê:
— One ticket, please?
— 13 euros, Sir.
Pronto. São Jotinha de Amsterdã estava do meu lado. A tarde estava garantida. E nunca mais iria andar com dinheiro contado na minha vida. Nunca.
Pedro Turambar já foi curupira

Quando eu tinha uns 10 anos, todo mundo na minha cidade tinha um patins e todos se encontravam na Praça do Povo para andar de patins. Quando tantos jovens mancebos se juntam para praticar alguma coisa, existe aquele negócio meio competitivo de um querer ser melhor que o outro o tempo todo. Consequências disso eram as manobras inovadoras, as experiências de quase-morte e, claro, os machucados.
Eu tinha uma facilidade muito grande para juntar os calcanhares retinhos e deslizava loucamente indo de um lado para o outro. Eu e meu irmão — que conseguia fazer a mesma coisa — chamávamos a técnica de “surfar”. Poucos conseguiam fazer aquilo e foi divertido por um tempo.
O que eu não sabia era que a prática constante do “surfe” me levaria a conseguir fazer uma coisa que dessa vez ninguém mais conseguia. Se eu tinha a facilidade de juntar meus calcanhares, deixando ambos os pés retos, eu pensei que, se forçasse um pouquinho, poderia aumentar o ângulo para o lado inverso.
Foi assim que descobri que eu posso fazer que nem o Curupira. Pois é, eu consigo girar totalmente meus pés para trás.
Daniel Oshiro, o arteiro japonês

Fui para o Japão em 1996, com 8 anos de idade e, em 2003, fui morar na cidade de Hamamatsu. Em 2009, em uma conversa de bar, um amigo e eu decidimos que iríamos fazer a diferença na comunidade brasileira lá no Japão.
O que começou com ideia de “mandar uma carta aberta à prefeitura” acabou evoluindo para um grupo social, que chamamos de Arteiros. Em 10 meses já havíamos feito 2 palestras, 1 exposição de arte e levamos pra comunidade brasileira o movimento Free Hugs.
Na primeira reunião com o vice-cônsul do Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu, ele comentou nunca havia visto uma iniciativa de jovens como essa, nem mesmo no EUA onde a comunidade brasileira é muito maior. Nossa última palestra teve apoio do Consulado, Delegacia Central e da Prefeitura de Hamamatsu, algo que nunca havia acontecido no Japão.
Ismael dos Anjos, craque das bolinhas perereca

Aos nove anos de idade, poucas coisas me faziam mais feliz do que uma bolinha perereca — aquelas de borracha coloridas distribuídas em tudo quanto é esquina que quicavam ininterruptamente. Tinha uma caixa com algumas dezenas delas: sorriso cheio e certo a cada intervalo de aula.
Estava na quarta série, o último ano da escola em que estudava. Dali, o destino almejado era quase unânime: 16 dos 17 alunos prestariam o concurso para o Colégio Militar de Belo Horizonte — escola pública que tinha um dos maiores índices de aprovação na UFMG e uma disputa tão árdua quanto o vestibular: mais de mil inscritos e 17 candidatos por vaga. Para nos preparar, a escola em que eu estudava resolveu oferecer um cursinho complementar às aulas da tarde.
Os pais gostaram da ideia, e eu ainda mais: haveria mais um recreio para o filho único aqui brincar com as bolinhas.
Quem não gostou foi a professora e a diretora do colégio. Não demorou muito para que minha mãe e a do Eduardo – um dos companheiros de aventura – fossem chamadas para uma conversinha. Aos prantos, lhes disseram o óbvio: éramos imaturos, atrapalhávamos a aula (impossível limitar as bolinhas ao recreio) e não estávamos muito interessados na dedicação que o vestibulinho exigia. E mais um tantinho além: não passaríamos no CMBH.
Passei em primeiro lugar, o Eduardo em terceiro.
Mas ainda estou à procura de uma “perereca” extraviada, que imitava uma bola de sinuca.
Filipe Larêdo passou pelo aquecimento para a adolescência

Eu era só um moleque de onze anos quando isso aconteceu. Na época nem percebi o quanto essa história poderia ter dado errado, mas hoje percebo que tomei decisões certas que me fizeram ter sucesso na minha empreitada. Tudo isso aconteceu no interior de São Paulo, em Vargem Grande Paulista.
Vindo de Belém com um grupo grande de amigos para participar de uma série de eventos culturais e esportivos, eu precisava voltar para minha cidade um pouco mais cedo do que eles. Por conta da quantidade de tempo que aquela viagem de ônibus durava — três dias de ida e três de volta — eu perderia alguns dias de aula que meus pais não queriam que eu perdesse. Então, eu vim de ônibus e voltaria de avião. Tudo isso já acertado com um rapaz, que ficou responsável por mim e garantiu que me deixaria no aeroporto na data e no horário marcados.
O evento correu muito bem. Diverti-me bastante. O único problema aconteceu quando todos já haviam ido embora da comunidade pela manhã e eu fiquei sozinho no alojamento. Naturalmente, acordei e fui procurar o rapaz que era responsável por mim. E para minha surpresa… ele havia ido para um retiro espiritual e provavelmente havia me esquecido. Decidi que aquilo não era motivo para nervosismo e prontamente comecei a procurar na cidade alguém de bom coração que pudesse me deixar no aeroporto às 20 horas.
Andei e bati em inúmeras portas de desconhecidos, até que consegui uma parte do que procurava: um carro. Uma senhora muito simpática e preocupada confiou em mim e disponibilizou seu veículo de transporte para me deixar no aeroporto. Porém, ela não sabia dirigir e o marido estava viajando. Agora só faltava o motorista. Continuei minha busca e após algumas horas, consegui o condutor.
Mas com um detalhe: ele só poderia me levar naquele momento, ou seja, meio-dia.
Chegaria então no aeroporto por volta de duas da tarde e teria que ficar até as sete da noite sozinho para entrar no setor que dava abrigo para crianças e adolescentes da companhia aérea. Fiquei então, com apenas onze anos de idade, sentado no aeroporto de Guarulhos, sozinho e despreocupado, esperando um avião que só sairia às nove da noite. Como falei, na época minha consciência não conseguia projetar nenhum perigo. Tudo foi uma grande aventura e o meu sucesso só confirmava que eu conseguiria ser independente naquela nova fase, que viria nos próximos anos, chamada adolescência.
Mecenas: Heineken
Todo homem tem seu talento e, com ele, multiplica histórias legendárias mundo afora. A Heineken sabe disso e valoriza cada uma delas.
Você está pronto para virar uma lenda? Então entre no site da Heineken e mande um vídeo do seu talento — qualquer talento. Os melhores vídeos selecionados darão a possibilidade do ganhador escolher entre:
- Ir assistir a final da Champions League em Lisboa;
- Ir ao festival de música Mysteryland 2014;
- Participar da gravação do novo filme do 007.
Vamos lá. Mostre o seu talento.



Puxe uma cadeira e comente, a casa é sua. Cultivamos diálogos não-violentos, significativos e bem humorados há mais de dez anos. Para saber como fazemos, leianossa política de comentários.