Se o PdH editasse o Aurélio, lá constaria:
Rock s.m.
1 Estado de espírito que leva meninas a gritarem diante do remelexo de uma pélvis 2 Impulso que faz os brotos desmaiarem diante de quatro garotos de Liverpool 3 Inquietação que leva rapazes a subirem em um palco e se jogarem na multidão 4 Evento musical realizado em uma prisão federal 5 Pulsão de se jogar na lama durante um festival de música 6 Aceitação de se fazer amor ao invés de guerra 7 Combustível altamente inflamável, se utilizado em conjunto com um piano e/ou uma guitarra.
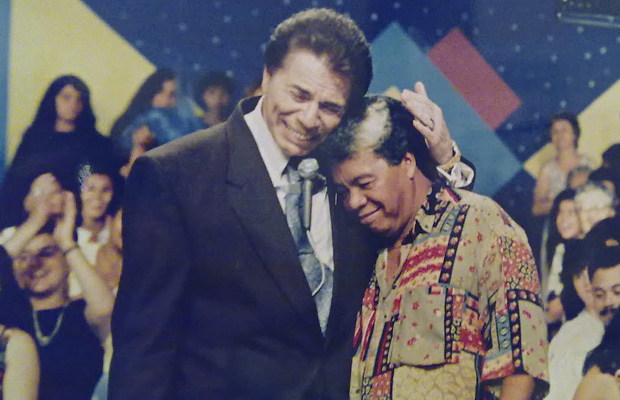
Alguns do PdH são extremamente fanáticos por rock. Outros, nem tanto, mas não negam que, em algum momento de suas vidas, a “música do diabo” teve um papel fundamental, atuando como um dos agentes na formação de caráter, moldando maneiras de pensar e de agir. Como eu mencionei lá em cima, rock é um estado de espírito. Àqueles imbuídos deste espírito, sugiro que celebrem este Dia do Rock. Ou, nas palavras do AC/DC,
“For those about to rock we salute you.”
A galera do PdH e os amigos mais chegados já começaram a festa.
Pegar a vida com as mãos, por Gustavo Gitti
Eu era um moleque certinho e regrado até começar a descobrir a existência de todo um mundo de sacanagem com 10, 11, 12 anos. Não me refiro a Calígula em VHS, mas à época boa em que as meninas começam a pegar em nossa mão direita para levar àquela sala vazia. Lembro que, em 1993, beijei uma garota da 8ª série depois de uma aposta e passei semanas cumprimentando algumas garotas da 7ª com selinho. Isso é o que chamo de putaria.
Passava tardes e tardes tocando pratos de ar e tambores de almofada, enquanto gravava músicas da 89 FM (“A rádio rock”) e fazia mixtapes com meus primeiros CDs. Slayer, Pantera, Faith No More, AC/DC, Metallica, Nirvana, Sepultura, Ramones, Helmet, Anthrax, Alice in Chains, Temple of the Dog, Jane’s Addiction, Body Count, Suicidal Tendencies, Infectious Grooves, Primal Scream e a sensacional Rollins Band, que escolhi para representar o que o rock me ensina até hoje: é possível pegar a vida com as mãos e pirar gostoso.
Link YouTube | Ouvia essa direto no excelente The end of silence, de 1992.
Rock estrangeiro feito no Brasil, por Alex Castro
O rock não é e nem nunca foi meu estilo musical favorito, mas ouvia muito as rádios Cidade e Transamérica. Em larga medida, eu e meus amigos consumíamos o nosso próprio rock carioca, praieiro e de bem com a vida: Blitz, Kid Abelha, Lobão, Paralamas, Barão, Cazuza, Marina, Lulu, Biquini Cavadão, Dusek, Fausto Fawcett – e, mais tarde, as voltas triunfais de Jorge Ben Jor e Tim Maia. Léo Jaime e João Penca e os Miquinhos Amestrados tinham estudado no mesmo colégio que eu e eram lendas locais.
O rock paulista e brasiliense, com poucas exceções (Titãs, Legião) nos parecia muito estranho: ouvíamos Ira, Capital Inicial, Plebe Rude e ficávamos espantamos por tanta revolta. “Será que essa raiva toda é falta de praia?!” “Só pode”, respondia o outro, “ainda bem que não somos de lá!” O sotaque paulistano carregado só não nos soava ridículo quando era o Roger invadindo a nossa praia ou cantando a galinha Marilu porque, francamente, era pra ser engraçado, né? Apesar disso, a banda de rock mais amplamente sacaneada, por larga margem, eram os Engenheiros do Havaí. Nunca conheci ninguém que admitisse gostar.
Crescendo no Rio da década de 1980, o rock punk revoltado paulista-brasiliense nos parecia tão estrangeiro quanto o charleston e a polca. Nossa revolta era a do Cazuza cantando “Ideologia” e “Burguesia”, jamais a do Ira em “Pobre Paulista” e “Gritos na Multidão”.
* * *
Meu primeiro disco, em minha primeira vitrolinha, presenteado por minha tia descolada, e que ainda vinha com um gibi, foi As Aventuras da Blitz, de 1982.
O Brasil estava se abrindo mas era uma ditadura, ainda governado por um general eleito indiretamente e que preferia cheiro de cavalo a de povo. Naquele mesmo ano, Leonel Brizola levou o governo do Estado do Rio de Janeiro. São as primeiras eleições que me lembro, mas o que eu não me dei conta na época, e só percebi tempos depois, é que foram também as primeiras eleições diretas para cargos executivos em muitos anos. Mesmo se eu fosse um pouco mais velho, também teriam sido as primeiras eleições que me lembraria. Para mim, criança pequena, eram somente eleições: eu não tinha como perceber como eram históricas.
Pois esse disco também foi histórico: duas faixas foram censuradas por serem indecentes, mas a gravadora tomou a decisão consciente de, ao invés de retirá-las, publicar o disco com elas e depois riscá-las manualmente.
O país caminhava em direção à democracia e já se votava diretamente para governador, mas ainda assim, ali no álbum hit do verão, estavam as marcas escancaradas de nossa ditadura para todo mundo ver.
Eu, aos oito anos de idade, tomei assim meu primeiro contato pessoal e concreto com a ditadura. Obrigado, Blitz.
(Poucos anos depois, no maravilhoso álbum de estreia do Casseta & Planeta, Preto com um Buraco no Meio, a última faixa do lado B se chamava “Punheta” – composta por “Cassandra Rios, Brussulivan e Brassadas”. Infelizmente, a música não podia ser ouvida, pois, como informava o aviso no disco, “o Departamento de Censura da Polícia Federal proibiu tocar PUNHETA em todo o território nacional.”)
Link YouTube | “Sabe essas noites que você sai caminhando sozinho de madrugada, com a mão no bolso…”
Se não fosse o rock, eu ainda seria virgem, por Thiago Kiwi
Eu tinha 14 anos. Era um moleque magrelo, com cabelo estranho e que morava longe. Meu melhor amigo, Rogério, também seguia essa mesma linha. No pátio da nossa escola, éramos dois caras meio isolados. Queríamos nos enturmar, mas não conseguíamos encontrar nada em comum com a turma que dançava axé no recreio ou com os caras que brincavam de guerrinha de mexerica.
Um dia o Rogério me emprestou um CD para levar pra casa. Achei curiosa a capa com um bebê nadando pelado tentando alcançar uma nota de dólar, mas eu não fazia ideia do impacto que aquele álbum teria na minha vida. Quando dei o play, o riff de “Smells Like Teen Spirit” fez meu coração acelerar. “Já era”, pensei, “é de rock que eu gosto”.
Além do Nirvana, descobrimos Pearl Jam, Silverchair, Alice in Chains, Rage Against the Machine e todas essas bandas que foram grandes nos anos 90. Curtíamos música da década anterior e éramos diferentes de todo mundo do colégio, mas estávamos cagando e andando para isso. Agora éramos amigos das meninas da oitava série, vestíamos roupa preta, correntes e passávamos nossos sábados na Galeria do Rock.
Foi nessa mesma época que eu perdi a timidez e tomei coragem para chegar naquela loirinha que eu gostava. Minha autoestima recém adquirida me ajudou a me dar bem, mas nosso amor eterno não sobreviveu mais de dois meses.
No ano seguinte, entramos numa fase mais radical. De autoproclamados grunges, passamos a dizer que éramos punks. Arrumávamos briga na rua, bebíamos vinho no Ibirapuera, íamos a festivais de punk rock e a shows memoráveis no Hangar 110. Num desses shows, acabei conhecendo uma garota que usava moicano, bermuda rasgada e tênis de skatista. A guria simplesmente conseguia preencher todos meus requisitos: gostava de música boa, tinha personalidade e – o mais importante – transava. Vivemos um romance curto, porém longo o suficiente para que eu tivesse a chance de comer uma mulher pela primeira vez na minha vida – com trilha sonora do clássico disco Ten, do Pearl Jam.
Hoje, vejo que o rock mudou meu comportamento e a forma com que eu me relacionava com as pessoas. Numa fase em que todo mundo passa por mudanças e inseguranças, o rock fez da minha adolescência uma época muito menos chata. Me deu amigos, roupas rasgadas e cicatrizes e, sem ele, com certeza, eu teria continuado virgem por muito mais tempo.
Link YouTube | Uma música “romântica” para curtir com a gata.
Do grunge aos bambas, por Jader Pires
O rock’n’roll serviu de molde para quem eu sou hoje. Quando pequeno, ouvia muito aquele Greatest Hits, do Queen, que mamãe tinha lá em casa. Depois, o grunge de Seattle serviu como base para todas as minhas ações como pré-adolescente. Não gostava muito de Nirvana, preferia muito mais Pearl Jam e Alice in Chains, mas o Nevermind foi o primeiro CD que comprei com meu dinheiro, juntamente com o Ten, do Pearl Jam, e o Kill’em All, do Metallica.
Daí pra frente eu colecionei discos, mudei minhas roupas e meu jeito de lidar com as mulheres. Meu maior desejo era ter uma banda de rock. Tive duas. Me diverti pra caralho em ambas e saí de cada uma delas antes que a tal diversão acabasse. O rock nunca vai ser rock se não for divertido de alguma maneira.
Comecei a ouvir jazz por causa do rock. Comecei a gostar de samba por causa do jazz. Hoje tenho um apreço por música sem igual. Decidi, aos 23 anos, que não queria mais ser publicitário, mas sim escritor ou jornalista e, porque não?, ambos. Entrei em um curso de especialização em jornalismo cultural pra falar de cinema, de teatro, e de música. Conheci um grande amigo, o Pedro Jansen, outro amante do bom e velho rock’n’roll e, juntos, iniciamos um blog de crítica musical, o falecido Calo na Orelha. Foram bons tempos de ótimas discussões musicais. Passei a gostar mais de Strokes. Entendi melhor o Oasis. Voltei a ouvir Led Zeppelin e coloquei as bandas do Jack White dentre as minhas preferidas da última década.
Se hoje sou o que sou, devo isso à música. E a música que eu ouço se sustenta em toda a base que o rock me deu. O rock fez de mim quem eu sou.
Link YouTube | Led Zeppelin é foda. Foo Fighters é foda. Qual adjetivo melhor descreve o encontro das duas bandas?
O show que eu não fui, por Fred Fagundes
O rock mudou minha vida em outubro de 2001. No mesmo ano em que o Grêmio ganhou seu último título nacional, a Argentina quebrou e a filha do Silvio Santos foi sequestrada, Eric Clapton chegou para turnê no Brasil. Eu, um mero estudante secundarista duro e virgem, claro, não tinha dinheiro para os disputados ingressos. Iniciou-se assim, graças ao rock, uma das experiências mais intensas da minha vida.
A esperança surgiu onde eu menos esperava, durante uma conversa sobre o show com um pequeno grupo de colegas de aula. Certa amiga – que é blogueira e pediu para não ser identificada – chegou até minha carteira e falou que podia fazer a gente assistir o show.
O plano era o seguinte: ela morava – e ainda mora – próximo ao estádio Olímpico, local do show em Porto Alegre (RS). O prédio, de poucos andares, não tem apartamento na cobertura. Seria lá, no topo do prédio, que ficaríamos curtindo a música e, se déssemos sorte, um pedaço do palco.
Cheguei ao prédio pouco antes das 20h, como havíamos combinado. Ao subirmos no terraço fui surpreendido com o “capricho” dela para aquela situação: um edredom. E para falar a verdade, não precisávamos mais do que aquilo. Pois, ao sentarmos na parte plana e mais segura do concreto, vimos perfeitamente um dos telões que transmitia imagens do palco. O ponto, senhores, era perfeito.
Recordo-me que o show começou com “Key to the Highway”. O acordes frenéticos de Clapton nos pegaram de surpresa num momento em que, de olhos para o céu, refletíamos a vida, os sonhos, os medos e traumas de dois adolescentes diferentes da maioria. Entre risos, conversas, confissões e baseados, descobrimos semelhanças e segredos guardados até hoje. E quando lá pela metade do show, já altos, ouvimos “Wonderful Tonight”, o mundo parecia ter parado.
E talvez realmente tenha. Pois, além de uma versão espetacular de “Sunshine of Your Love”, eu só me lembro de um por do sol que vocês também lembrariam.
O melhor show da minha vida foi um show que eu não fui. E isso faz todo sentido.
Link YouTube | Se você conhece Eric Clapton apenas pela música “Tears in Heaven”, você não conhece Eric Clapton.
O bote da serpente, por Rodolfo Viana
Em 1992, eu era um pequeno garoto criado a leite com pêra. Brigava na escola e sempre apanhava. Era o último escolhido para o futebol na hora do recreio. Meu mundo se resumia ao vídeo game e todo o resto me causava estranheza. Alienado. Não duvidaria se uma samambaia reclamasse mais interesse no mundo do que eu. Pteridófitas são muito espertas.
Ia à casa da minha madrinha com frequência — adorava os bolinhos de chuva que ela preparava. Lá, meu primo mais velho me mostrou um vinil, formato que ainda reinava absoluto naqueles tempos. Capa preta. Serpente cinza escuro. Não à primeira vista, mas se eu olhasse bem, a encontraria lá, pronta para o bote. Mal imaginava que eu seria a presa. Antes de ouvir o bolachão, fiquei talvez minutos encarando a capa. Nunca havia visto algo assim. Para mim, capa de vinil era como O Papa é Pop, dos Engenheiros. Eu era um imbecil, reparem.
Perguntei que banda era aquela que ousava expor uma cobra na capa. “Metallica”, respondeu meu primo. Nunca tinha ouvido falar. Quando os primeiros acordes de “Enter Sandman” começaram a soar, eu senti fúria e fascínio.
Fui atrás do vinil. Depois da banda. De outras bandas. De outros gêneros. Hoje percebo que, assim como a filosofia, a antropologia e as religiões, a música explica o mundo. Em 1992, o papa deixou de ser pop para mim. Foi quando comecei a deixar de ser alienado.
Link YouTube | Eu adoro Metallica. Tanto que baixei várias músicas deles no Napster, no começo dos anos 2000.
A besta não estampa capa de Capricho, por Luciano Ribeiro
Quando pequeno, minha mãe costumava ouvir uns vinis clássicos dos Beatles. Talvez este tenha sido meu primeiro contato com o rock. Uma criança torrando a paciência da mãe enquanto ela se esforçava para conseguir prestar atenção às músicas. Em algum momento durante a infância, uns caras malucões cantando coisas que eu mal podia entender apareceram na televisão com roupas de prisioneiro, tocando umas músicas que me faziam rir e ao mesmo tempo pular no sofá. Esses caras incomodaram bastante. Infelizmente, os Mamonas Assassinas não duraram muito.
O que sei é que, quando as meninas ao meu redor começaram a usar sutiã e tornaram impossível não notar suas presenças, ao mesmo tempo eu descobri que o diabo existia e tocava heavy metal. O Iron Maiden foi responsável por isso. O Iron Maiden também dificultou minhas investidas nesse universo feminino. É que elas entendiam por rock aquilo que era estampado nas capas da Capricho. Uma pena.
De lá pra cá a música se tornou parte essencial daquelas coisas que eu não sou mas que me definem. Algumas bandas se tornaram quase uma assinatura, o tipo de coisa que me acompanha e eu acabo devolvendo ao mundo em forma de ânimo, tesão mesmo, para tocar, compor, escrever, fazer sexo ou lavar roupa. Em tudo que eu faço existe uma pitada daquela postura sacana, um sorriso sarcástico ou a tendência a sutilmente desafiar os outros.
Hoje, essa admiração pelo rock se manifesta principalmente quando me reúno com outros três caras para incomodar a vizinhança. Se existe algo realmente divertido no rock é o fato das pessoas ouvirem algo feito há 40 ou 50 anos, como Jerry Lee Lewis, Jimi Hendrix ou Led Zeppelin e, ainda hoje, se assustarem como se fossem a coisa mais ofensiva e escandalosa do mundo. Isso é o que eu mais gosto. E isso não tem preço.
Link YouTube | Ei, menininhas que acabaram de descobrir o sutiã, “deal with it”.
Rock no DNA – parte 1, por Felipe Franco
O rock nunca mudou minha vida, pois ele sempre fez parte dela. Mesmo quando passei pela fase das modinhas – como o reggae, o forró pé-de-serra… – sempre escutei rock. E quando digo “sempre” é sempre mesmo, desde que eu era um mísero espermatozoide no saco do meu pai. Talvez eu tenha até sido feito ao som do rock, pois meus pais são roqueiros natos. Então, em vez de escrever sobre rock, pedi à dona Vera Lúcia – senhora minha mãe – para falar sobre o assunto.
Link YouTube | Só para quebrar o clima. E para aprender uns passos.
Rock no DNA – parte 2, por Vera Lúcia Silva
Rock é pensar em puro prazer. Ele nasce não sei de onde, não sei por quê, mas sei que é puro deleite ouvir Elvis Presley, Led Zeppelin, Black Sabbath, Yes, Grand Funk Railroad, Deep Purple… Os nomes vão surgindo conforme você apura o coração e começa a sentir o que é liberdade ao dançar, ao cantar bem alto, ao mexer o corpo sem regra e sem modinha. Apenas ao sabor daquela bateria infernal e de uma guitarra no último volume.
Link YouTube | Grand Funk Railroad: infernais.
Deuses entre nós, por Pedro Jansen
O primeiro vinil que ganhei por escolha própria foi um do Só Pra Contrariar. Um não: o primeiro, com “Barata da Vizinha” e “Dia de Domingo”. Clássico. Um pouco mais velho, o primeiro CD que ganhei por minha escolha foi um do Gabriel, O Pensador – aquele com “2, 3, 4, 5, Meia, 7, 8” e outras pérolas. Não tive irmão mais velho que ouvisse um som sujo e controverso para desgosto da minha mãe, nem rádio que tocasse os maiores sucessos do novo e do velho rock. Muito menos vi Marina Lima abrindo as portas da MTV brazuca.
Meu primeiro contato com rock foi num especial da Globo em homenagem à Jovem Guarda.Por lá, conheci os grandes baluartes do rock nacional. Cantava Hilton achando que a poeta era a Toller, achava o Cidade Negra rock, achava o Skank rock, dentre outras liberdades da apreciação infantil da arte. No ano em que completei 12 verões – em Teresina é sempre verão –, Renato Russo morreu. Foi impossível não ser cooptado e passar a adorar o Trovador Solitário e seus projetos pré e pós-Legião. Faz parte, diria o filósofo e o ex-BBB.
Uns outros anos depois, pus um What’s the Story (Morning Glory) nas mãos e descobri que, para a minha adoração e deleite, o Oasis não tinha só uma música incrível. Nessa época, risadinhas irônicas entregando que o coro final de “She’s electric” é idêntico ao de “With a little help from my friends” não fariam qualquer sentido. Não fazem até hoje, também. Também nunca gostei de Stones.
Talvez tenha sido no ano seguinte que fiz aquele teste para vocalista numa banda de rock. Aprendi uma do Ramones – banda que não me fez nem faz falta alguma na minha formação enquanto ser humano –, sabia outra qualquer decorada – “Chão de giz” – e toquei outra de supetão – “Meu erro”.
No ano em que passei no vestibular, conheci a fundo o Led Zeppelin e entendi que os deuses já caminharam sim pela terra. Daí pra frente só o ateísmo me abarcaria.
Vou poupar minha memória de incluir aqui o meu longo flerte com o metal e encerrar agradecendo Raul Seixas por cantar que o diabo é o pai do rock, Raimundos por aquele riff de baixo de “Tora tora”, Led pelo BBC Sessions, Europe por aquele tecladinho odioso, Legião por aquela intro de “A fábrica”, Oasis por “Hello”, Beatles pelo Revolver, Grandaddy pelo The Sophtware Slump, Cardigans pelo First Band on the Moon, Jucélio Jr, Guilherme Jimbo e Daniel Campos pela Nelson Theresa Cafe e muito, muito mais gente que nunca caberia aqui.
Link YouTube | Sim, os deuses já caminharam pela terra. E deixaram pegadas.
Do beijo no gelo ao Hangar 110, por Julia Ropero
Quando menina, eu era aquela garota para quem nenhum menino olhava. Todas as minhas amigas já tinham dado o primeiro beijo enquanto eu continuava treinando com o gelo no copo. Desde aquele tempo eu cresci ouvindo rock. Minha mãe sempre ouviu Legião Urbana e Beatles. Ela é fã numero um do Capital Inicial. Sempre achei um som gostoso de ouvir, mas nunca tinha parado pra prestar a atenção e sentir o efeito do rock, a sensação que ele traz.
Quando entrei na faculdade eu era a típica deslocada. Até que um dia conheci uma galera que curtia rock. Começamos a trocar ideias e passei a frequentar shows de Hard Core no Hangar 110. Também não faltava em shows do Dead Fish. Fui ao do Metallica e em alguns de covers do AC/DC. O meu iPod ganhou diversas musicas – o MPB e o samba saíram dos favoritos. Nele, a mais tocada é “Brainstorm”, do Arctic Monkeys.
Link YouTube | Quando estou desanimada, não me vejo ouvindo outra coisa. É só começar a tocar isso que o ânimo volta rapidinho.


Puxe uma cadeira e comente, a casa é sua. Cultivamos diálogos não-violentos, significativos e bem humorados há mais de dez anos. Para saber como fazemos, leianossa política de comentários.