A primeira experiência de Fabio com a chuva veio aos quatro anos. Sentado na escadaria da casa da avó, sentiu uma gota d’água tilintar aos se desfezer sob o centro de sua cabeça. Era o princípio daqueles fortes temporais de veraneio que surgem às quatro da tarde, com pingos grossos e em queda em linha reta, mas tão reta, que são capazes de beirar os noventa graus de exatidão. O puxão que sentiu na orelha direita e os gritos do avô ao levá-lo encharcado para a sala demoraram menos para serem esquecidos se comparados ao gosto das altas doses de poluição sentidas ao levar a mão molhada pela torrente que caíra do céu à boca.
Aos seis, Fabio já tecia todos seus barquinhos de papel com destreza de carpinteiro interiorano. Acostumou-se a usá-los na água barrenta que se acumulava ao final da rua onde os pais de sua mãe moravam. A única coisa que realmente o incomodava em todas as enchentes que enfrentou na vida era a sensação da água invadindo seu pé e o barulho produzido na junção da meia molhada com a borracha do tênis. Doenças – em especial, a temida leptospirose que tanto ouvira falar – não o impressionavam.

Nunca soube bem chutar uma bola. Fez, no máximo, doze embaixadinhas seguidas enquanto ainda achava que servia para isso. Num desses dias de clima esquisito – em que a garoa vem em diagonal e só vê em contraposição à luz – seu desempenho extrapolou as expectativas. Em um lance que ainda não entende muito bem – não sabe se se enroscou na bola ou ela nele – acabou por marcar o gol que lhe renderia o primeiro toque intencional em seu pau que não pelas próprias mãos. Na sexta série, barquinhos de papel, por mais bem construídos que sejam, já não impressionam ninguém. Goleador do interclasses entre os pingos finos da chuva rende mais. Bem mais. Mesmo que com a mais vagabunda entre as vagabundas do colégio.
Chovia muito no dia em que Fabio foi receber seu diploma de técnico em administração naquelas capengas escolas públicas. Era um cursinho de merda e ele nunca se perdeu em achar que aquilo pesava mais que sua realidade. Talvez lhe garantisse frente numa disputa por um cargo em uma empresa de telemarketing ou para empacotar materiais em um almoxarifado qualquer. Talvez.
Como em toda despedida que mereça assim ser chamada, aquele encontro derradeiro também merecia – entre todas as promessas de fraternidade eterna – uma bebedeira. Aos dezessete anos, seria o primeiro porre homérico da vida. Ainda que fosse por conta de um pedaço de papel. A mistura inapropriada de vinho barato e cerveja choca com a fragilidade inerente a todos os criados pelas avós fez o estômago de Fabio vir à boca logo nos princípio dos brindes. Enquanto o ônibus não vinha, se escondeu do temporal no resto de telhado de uma padaria de portas cerradas e tentou não sujar a barra da calça molhada na própria bile.
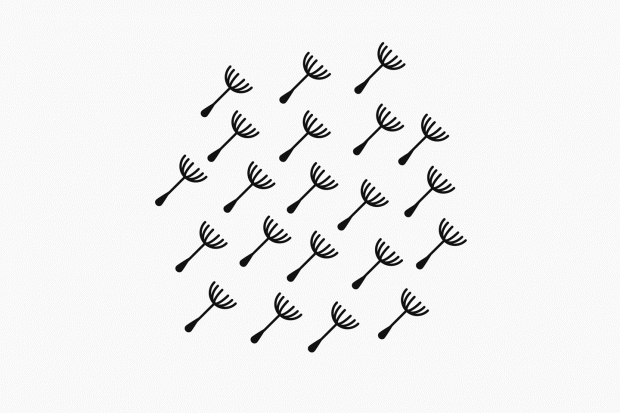
Passaram-se quase dez anos para que Fabio se desse conta de que a chuva devia ter o abandonado. A relação de Fabio com Carolina andava desgastada desde que a noiva descobriu ter sido traída com a estagiária fogosa, dessas que debruçam na mesa para exibir o decote e atendem o telefone com uma caneta Bic presa aos dedos, levando à boca.
A trepada se deu em março, mês das chuvas mais intempestivas. Mês que fecha o verão e alguém fatalmente cantarola Elis e Tom como isso fosse lá alguma coisa. Carolina já não achava nada interessante o noivo recusá-la na cama por conta de sua gravidez em fase inicial, mas se desfazer dos hormônios com “uma garotinha qualquer” era sinal de morte para ela. No desespero de rever a paz dentro de casa, Fabio tentara de tudo: cumpria os desejos alimentares nas horas difusas, conversava com o bebê de minuto em minuto mesmo sem ouvir dele nenhuma palavra e, por fim, num dia em que Moema se viu imersa num punhado de granizo, decidiu antecipar as férias para acompanhar mais de perto a gestação. Era como se cada pedra que caísse do céu fizesse seu tesão desenfreado em trepar na mesa do escritório voltar. Se trancou no banheiro e de lá não saiu até que o temporal cessasse. Nunca soube da precipitação incomum que tomara a cidade.

Chegara o dia do casamento – marcado em cerimônia ao ar livre com indefectíveis previsões de sol escancarado. Desgostosa com o casório, Carolina se escondeu e tentou fugir como e o quanto pode. Detestava a ideia de casamento a céu aberto, levava no peito a marca de uma facada invisível e no ventre um ser que, em verdade, nunca quisera.
Com três horas de atraso e descontentamento rasgado por parte dos embebedados convidados, Fabio viu, ao longe, a noiva chegar acompanhada pelo pai. Rosto choroso lambuzando a maquiagem, vestido apertado e a barriga de quem está por mudar de vida de uma vez por todas. Não se sabe se pela dificuldade de caminhar ou pela ansiedade que secava a boca de Fabio e lhe fazia palpitar o coração, mas era como se cada passo de Carolina simulasse uma indelével segurança. Vinha para ficar.
Assim que ela pousou o pé esquerdo na areia, um raio rasgou o céu em alto mar. Com o reflexo do clarão ainda nos olhos e o estampido nos ouvidos, o noivo engoliu de uma só vez a cara fechada. As bochechas se repuxaram por instinto e, percebendo que sua sorte mudara, Fabio sussurrou timidamente, num tom baixo o suficiente para que nem Joel, amigo do peito que o consolava, conseguisse ouvi-lo:
“Puta que pariu. Essa é a mulher da minha vida”.
Nota do editor:
As ilustrações massacrantes aí de cima são da sueca Sara Andreasson e do americano Keith Shore.

Puxe uma cadeira e comente, a casa é sua. Cultivamos diálogos não-violentos, significativos e bem humorados há mais de dez anos. Para saber como fazemos, leianossa política de comentários.